
Quase metade das pessoas acha que democracia funciona mal, mostra estudo
Lucas Neves | 11 décembre 2019
Levantamento realizou 30 mil entrevistas em 42 países; para 67%, regime é insubstituível
O mundo assiste a uma “desconsolidação democrática”, aponta um estudo internacional cuja versão brasileira é lançada nesta semana, em São Paulo.
Compilado a partir de mais de 30 mil entrevistas conduzidas no fim de 2018 em 42 Estados democráticos, incluindo o Brasil, o levantamento mostra que, apesar de a maioria (67%) achar que o regime atual é insubstituível, quase metade (49%) pensa que ele funciona mal em nível nacional.
Além disso, mais de um terço se diz favorável a um sistema (a epistocracia) em que só teriam direito a voto pessoas com determinado nível de conhecimento ou formação, índice que chega a quase 50% na faixa dos que têm até 35 anos.
Da mesma forma, a ideia de um governo ocupado por um “homem forte que não precisaria tomar conhecimento do Parlamento nem [da realização] de eleições” goza da simpatia de um terço das pessoas ouvidas —e o contingente sobe novamente entre os mais jovens (38%).
O cientista político francês Dominique Reynié, um dos responsáveis por “Democracias sob Tensão”, havia liderado em 2017 sondagem parecida, mas menos abrangente (26 países). Desta vez, ele expressa preocupação com a diminuição do apelo de certos princípios democráticos para gerações mais novas.
E vê na China e em sua combinação de cerceamento de liberdades e poderio econômico catalisadores desse sentimento.
“As ditaduras que conhecemos até aqui eram falidas. A China, contraexemplo, vai ocupar as mentes das nossas novas gerações, tanto mais quanto pior for o conhecimento que elas têm da história”, afirma Reynié, que dá aulas na Sciences Po (Instituto de Estudos Políticos de Paris) e dirige a Fundação para a Inovação Política, ponta de lança do levantamento. “Nesse sentido, o tempo joga contra a democracia.”
O cientista político, que está em São Paulo nesta semana para debater os resultados, diz que é preciso responder ao ceticismo crescente em relação à democracia com uma concordância global e reconhece que, para frear o populismo nacionalista da direita radical, talvez seja preciso incorporar artigos de seu programa.
Mas alerta: “Ao tentar evitar que os populistas cheguem ao poder, não corremos o risco de criar regimes que enveredam por essas práticas? Isso é um problema”.
O que mais o surpreendeu nos resultados deste levantamento?
A hipótese inicial era a de que a democracia não ia bem [risos]. Não queríamos confirmá-la, até porque sabíamos que iríamos encontrar indicações nesse sentido. Não somos os primeiros a dizer isso.
O que me impressionou foi o que chamo de “desconsolidação” democrática, ou seja, o fato de que, nas novas gerações (até 35 anos), os indivíduos são menos apegados a certos princípios e valores do que entre os mais velhos. Se isso se confirmar, significa que, à medida que as gerações forem se sucedendo, o sentimento democrático será menos forte, menos enraizado. É muito preocupante.
Perguntamos pela primeira vez se todos deveriam ter o direito de votar ou só aqueles com determinado nível de formação: no geral, 38% dizem que só deveriam votar os que estudaram mais. Entre os que têm menos de 35 anos, esse índice vai a 48%.
É colocar em questão um elemento fundamental da democracia, que não é simplesmente a eleição, mas o sufrágio universal, ou seja, a possibilidade de todos votarem. Isso hoje é contestado, talvez porque o mundo tenha se tornado mais complexo ou porque as pessoas desconfiem mais umas das outras, ou ainda porque as sociedades estejam se tornando multiculturais.
Isso não tem a ver com uma falência da educação e do ensino da história?
Fizemos um estudo em 2015 com jovens da faixa dos 16 aos 29 anos sobre conhecimentos de história. Muitos diziam ter aprendido a disciplina na escola, mas muitos também pela internet. Há um autodidatismo caótico e perigoso, porque se pode chegar a lugares que louvem uma ditadura ou neguem a existência de certos acontecimentos.
Então, existe a ignorância, a falha na formação mas também [o revisionismo histórico como] a expressão de um individualismo da sociedade. A história, a sociologia e a economia são saberes coletivos —história individual é biografia. Há um desapego em relação a um coletivo dado (como um país ou um continente, por exemplo). Em lugar disso, surgem relações com comunidades que escolhemos, mas que não têm passado, história, existem unicamente no presente.
Além disso, existe uma sensação de declínio do Ocidente que pode dar a impressão de que uma nova história está começando e que, agora, a Ásia irá desempenhar papel bem mais importante.
O estudo aponta para uma admiração crescente pela China, ditadura de economia pujante?
Na verdade, na pesquisa anterior, havia mais gente com uma visão positiva sobre a China. A maioria dizia não saber avaliar ou tinha opinião favorável. A proporção dos que não sabem avaliar caiu muito, e os que veem o país de modo desfavorável cresceu sensivelmente. Não sei o que vai acontecer daqui em diante, mas é certo que uma parte da elite admira muito a China.
O grande paradoxo, para mim, tem a ver com o apreço das pessoas pela democracia. Há uma disposição crescente de aceitar um poder autoritário, o que é ainda mais saliente entre os jovens.
Parece existir um princípio de demanda de autoridade, da qual poderíamos depreender uma demanda de autoritarismo. A polícia e o Exército são muito populares, por exemplo, à diferença do governo e do Parlamento, dos partidos e sindicatos.
Atendo-nos aos jovens (faixa de 18 a 34 anos), salta aos olhos um paradoxo: são eles os mais propensos a aceitar um poder autoritário (38%), mas também os maiores entusiastas de um cenário de mais liberdade, mesmo que isso implique menos ordem…
Podemos acrescentar a esse aparente contrassenso a opinião geral sobre a liberdade de expressão, de manifestação e de escolha dos governantes: apoio na casa dos 90%. Tenho uma hipótese: as sociedades democráticas ainda não estão efetivamente pedindo governos autoritários. Há, sim, uma demanda de proteção das liberdades e de eficácia do poder político —algo que se perdeu. Ou seja, que se possa ter trabalho, atendimento médico, educação e segurança.
Então, no fundo, talvez não haja contradição: todos gostaríamos de um poder mais eficaz; não estamos prontos, porém, a entrar em um regime autoritário, porque temos apreço pela liberdade. Considero que ainda não há essa demanda autoritária, mas que ela vai aparecer. Ou os Estados se mostram capazes de realizar, ou teremos milhões de cidadãos disponíveis para aventuras políticas. A maioria vai querer romper com o sistema.
É um pouco simplista dizer isso, mas, quando ouvimos falar na China, trata-se de um país em que as pessoas progridem, avançam, estão cada vez mais ricas. O cidadão ocidental pode pensar: “Tudo bem, eles não podem votar, enquanto eu tenho essa liberdade. Mas ela serve para quê?”. Eles não são livres, mas têm celulares, trabalho, viajam pelo mundo, fazem compras em grifes de luxo.
Para mim, eis a grande diferença em relação ao período de confronto entre os modelos americano e soviético. O segundo conjugava falta de liberdade e falta de eficácia. Os cidadãos eram pobres e estavam presos, de certa maneira.
Os chineses não são livres, mas têm eficácia de sobra. Isso torna as coisas bem diferentes. A competição é de outra ordem. Não imaginávamos que, no século 21, estaríamos concorrendo com um sistema totalitário, mas de alta performance no que se refere ao padrão de vida.
As ditaduras que conhecemos até aqui eram falidas. A China é o contraexemplo e vai ocupar as mentes das nossas novas gerações, tanto mais quanto pior for o conhecimento de história delas. Na faixa etária que vai dos 18 aos 34 anos, 31% dizem ver com bons olhos a perspectiva de um governo militar —o índice desce a 11% entre os que têm 60 anos ou mais. Aí se vê bem quem conhece a história… Nesse sentido, o tempo joga contra a democracia. É horrível, mas acho que não poderemos compensar isso, ao menos não em um primeiro momento.
O que será preciso para sair dessa situação?
Se as pessoas ainda não estão 100% convencidas sobre a virada ao autoritarismo, é hora de tornar as políticas públicas mais eficientes. É necessário que as democracias colaborem entre si de modo muito mais intenso, no comércio, na indústria, na segurança. Seria preciso estender o que fizemos neste continente com a União Europeia ao conjunto das nações democráticas.
Essa aproximação pressupõe concessões. É difícil, não sou ingênuo de achar que não. Mas todos têm interesse nisso, seja em termos comerciais, de fornecimento de matérias-primas, de segurança militar ou marítima, de proteção de dados ou de pesquisa e tecnologia.
A lógica é que os Estados democráticos precisam voltar a ser eficientes para recuperar sua legitimidade. E é preciso fazer isso rápido. Um regime populista na Europa é uma anomalia. Se houver vários, significa que a União Europeia será reformada, talvez desfeita.
A meu ver, se o populismo se alastrar no bloco europeu, ele será como um todo ainda menos eficaz, funcionará menos bem e, em resposta, os governantes vão endurecer o exercício do poder, como vemos na Hungria ou na Polônia.
Ou seja, virão com um discurso na linha: “Não estou fracassando, apenas sendo impedido de fazer o país funcionar”. O que não é a cultura de um poder democrático, que disputa eleições, pode eventualmente mentir, mas não coloca pessoas sob escuta nem limita a liberdade de imprensa ou controla o Judiciário.
Com o esquecimento da história, a despolitização e as fake news…
…haveria menos reação popular?
Sim. Na sala de aula, sinto que muitas ideias antes evidentes que já não o são. Hoje, devo argumentar muito mais e não sei se chego a convencer meus alunos. Mesmo sobre a superioridade do modelo de democracia representativa sobre outros, há muito ceticismo entre jovens —e estamos falando da elite intelectual e econômica da França.
É mesmo possível falar em um efeito cascata, em escala global, do questionamento da democracia liberal? Ou seja, o “leave” (pró-saída da Europa) no plebiscito britânico de 2016 dá um empurrão à ascensão de Trump nos EUA, que, por sua vez, legitima a eleição de Bolsonaro no Brasil ou o surgimento de Matteo Salvini como homem forte na Itália?
Sim. Considero que, na Itália, o Partido Democrata (centro-esquerda) errou ao se aproveitar do erro de Matteo Salvini [que desmanchou sua coalizão governista com o Movimento Cinco Estrelas para tentar forçar eleições antecipadas, mas foi surpreendido por um acerto entre o ex-aliado e o PD] para precipitar sua queda [do posto de vice-premiê].
Assim, impediram o fracasso de Salvini no momento em que muitos italianos começavam a mudar de opinião sobre ele [cujo partido de ultradireita, Liga, liderara por meses as intenções de voto]. Ele acabou caindo com a imagem, na Itália como no exterior, de ter sido eficaz na condução da política migratória, o que provavelmente é falso.
Saiu como uma espécie de “outsider” caçado pelo “establishment” político e já está fazendo campanha de novo. O novo governo vai decepcionar, é óbvio, até porque tem pouca margem de manobra, dada a dívida colossal do país. Então, estamos fabricando o retorno de Salvini, desta vez sozinho, sem o Cinco Estrelas.
Se ele voltar daqui a alguns meses e embarcar em uma lua de mel de um ano com o eleitorado, isso pode influenciar a eleição presidencial de 2022 na França, porque os franceses não ficaram com a impressão de que ele tenha fracassado [na primeira passagem pelo governo]. Ele é vulgar, vá lá, mas isso não incomoda tanta gente.
Já o brexit hoje inspira mais visões negativas do que qualquer outra coisa, por causa do caos em que se transformou.
Mas, no cômputo geral, há sim uma normalização do populismo em curso, com figuras fortes na Itália, na Áustria, na Alemanha, sobretudo a leste. Na França, coisas que nem a ultradireita dizia há alguns anos hoje estão na boca do Partido Socialista. Todo mundo deu passos à direita. As grandes filiações históricas foram suspensas: a social-democracia vive uma crise histórica, a direita liberal, idem.
Por quê?
Há a questão demográfica, de envelhecimento da população —que sobrecarrega o Estado de bem-estar social e torna as pessoas mais conservadoras e agressivas— e o multiculturalismo, que cria uma desconfiança em relação à solidariedade. Isso não favorece o imaginário progressista da esquerda. E a direita tradicional, de seu lado, é aspirada pelo populismo.
Mas houve em 2019 uma reabilitação da social-democracia nos países nórdicos [emplacando governos em Dinamarca, Suécia e Finlândia] e, no fim das contas, uma concertação da esquerda para governar a Espanha. Pode-se ver aí o começo de um “cordão republicano” contra o populismo nacionalista de ultradireita?
Talvez. Mas convém lembrar que, tanto na Dinamarca quanto na Suécia, os sociais-democratas estão em seu patamar histórico mais baixo. Além disso, para sobreviver, precisam integrar a seus programas elementos que vêm da ultradireita, sobretudo na rubrica de imigração. Precisaram endurecer o discurso para reatar com seu eleitorado tradicional, como a classe operária da Dinamarca.
Quiçá isso seja necessário para conter o avanço dos populistas. Mas, a partir de certo ponto, podemos nos perguntar: ao tentar evitar que os populistas cheguem ao poder, não corremos o risco de criar regimes que enveredam por essas práticas? Isso é um problema.
Optamos durante décadas por não falar em imigração e integração. Viraram tabus. Achamos que iriam se resolver sozinhos e que tratá-los abertamente favoreceria os populistas. Assim, criamos um monopólio do populismo sobre um tema que preocupava cada vez mais os europeus.
Diante disso, é possível dizer então que a saída para a democracia seria uma espécie de “flexibilização” de seus ideais e princípios?
É o que vemos hoje, por exemplo, nesse debate em torno da “democracia iliberal”, um conceito que para mim não faz muito sentido, porque democracia pressupõe liberdade. As ditas iliberais repousam sobre eleições supostamente competitivas, mas sistemas manipulados por quem governa —e limita a liberdade de imprensa, os direitos da oposição e a autonomia do Judiciário.
Não se pode encarar [Viktor] Orbán [premiê da Hungria] e [Andrej] Babis [premiê da República Tcheca) como líderes que estão rompendo com a Europa, mas sim como a expressão de um conflito que cada democracia já está tendo consigo mesma. É juntos que temos de atacar esse problema.
Na França, na esteira dos atentados de 2015 e 2016, adotaram-se medidas de exceção, duríssimas, e quase entrou em vigor a suspensão de cidadania para condenados por terrorismo —isso num governo socialista. Todo esse direito de exceção ligado a monitoramento de suspeitos e operações de busca e apreensão foi institucionalizado, incorporado à lei francesa.
Se a democracia ficar menos liberal, os conflitos sociais vão se confrontar a um poder mais duro, mais repressor. Não haverá debate, mas confronto.
Maquiavel disse que as criações humanas têm prazo de validade. Nunca pensamos a democracia nesses termos —pensamos que poderíamos capitular diante dos nazistas ou do Exército Vermelho, mas não por nosso próprio peso.
Para 2020, não estão previstos um crescimento econômico mais vigoroso nem a redução sensível das tensões geopolíticas —pelo contrário, multiplicam-se as manifestações no Chile, em Hong Kong, no Líbano. O aquecimento global complica tudo isso. As perspectivas para o brexit tampouco são positivas.
Nos EUA, Trump pode se reeleger, o que é um problema. Mas me pergunto se, caso ele seja derrotado, seu país voltará a ser mais moderado. Acho que a questão ali é menos o presidente do que os Estados Unidos em si. A coisa vem de longe. Mesmo que a eleita seja uma mulher democrata, haverá algo imutável.
Dominique Reynié
Cientista político, é professor titular na Sciences Po (Instituto de Estudos Políticos de Paris) e dirige a Fundação para a Inovação Política. É autor de “Vertige Social Nacionaliste” (vertigem social nacionalista) e “Nouveaux Populismes” (novos populismos), entre outros.
Leia o artigo sobre folha.uol.com.br.




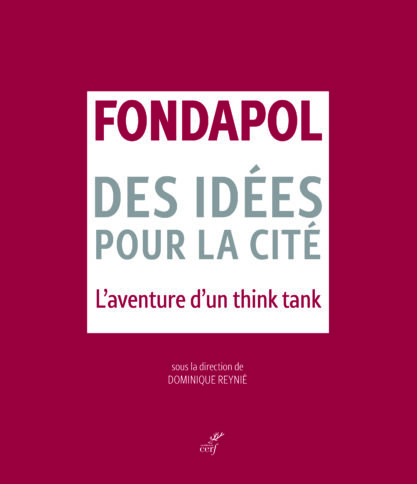



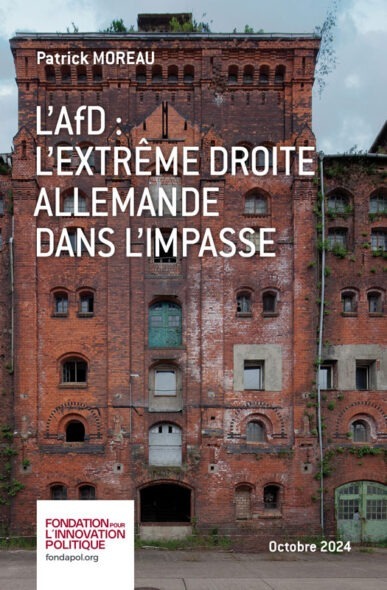



Aucun commentaire.